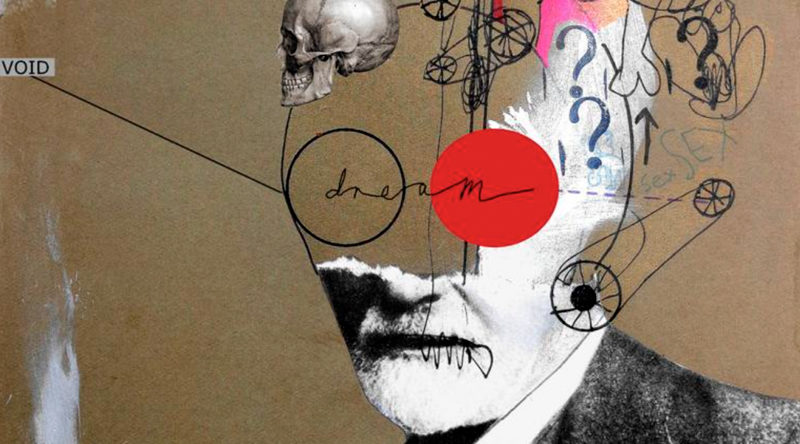
Um bebê que, nos braços da babá, desvia o rosto chorando, ao ver uma pessoa desconhecida; um religioso que inicia a nova estação com uma prece, e também saúda os primeiros frutos do ano com uma bênção; um camponês que se recusa a comprar uma foice que não tenha a marca familiar a seus pais — a diversidade dessas situações é evidente, e parece justificada a tentativa de relacionar cada uma a um motivo diferente.
Mas seria um erro ignorar o que têm em comum. Em todos os casos há o mesmo desprazer, que na criança tem expressão elementar, no religioso é mitigado com um artifício, no camponês se torna o motivo para uma decisão. A fonte desse desprazer é a exigência que o novo faz à psique, o dispêndio psíquico que requer, a incerteza, exacerbada em angustiosa expectativa, que traz consigo. Seria muito interessante tomar a reação psíquica ao novo como objeto de estudo, pois em condições determinadas, não mais primárias, também se observa o comportamento oposto, uma autêntica sede de estímulos, que se lança a tudo que é novo simplesmente por ser novo.
No trabalho científico não deveria haver lugar para o temor ao novo. Eternamente incompleta e insuficiente, a ciência é obrigada a esperar sua salvação de novas descobertas e novas concepções. Para não ser enganada muito facilmente, ela deve se armar de ceticismo e nada acolher de novo que não tenha passado por severo exame. No entanto, ocasionalmente esse ceticismo revela duas características insuspeitadas. Volta-se nitidamente contra o que chega de novo, enquanto poupa o que já é conhecido e acreditado, satisfazendo-se em rejeitar as coisas antes de investigá-las. Mostra-se, então, como o prosseguimento daquela reação primitiva ao novo, como uma coberta para a sua preservação. É sabido que frequentemente, na história da investigação científica, as novidades foram recebidas com intensa e obstinada resistência, e o curso posterior dos eventos demonstrou que ela era injusta, que a inovação era importante e valiosa. Em geral eram certos elementos do conteúdo do novo que despertavam a resistência, enquanto, por outro lado, vários elementos tiveram de atuar em conjunto para possibilitar que irrompesse a reação primitiva.
Uma acolhida particularmente ruim teve a psicanálise, que o presente autor começou a desenvolver há quase trinta anos, a partir das descobertas de Josef Breuer (de Viena) sobre a gênese dos sintomas neuróticos. É indiscutível seu caráter de novidade, embora, excetuando esses achados, ela tenha elaborado um abundante material que era conhecido de outras fontes, resultados dos ensinamentos do grande neuropatologista Charcot e impressões do mundo dos fenômenos hipnóticos. Originalmente o significado da psicanálise foi apenas terapêutico, ela buscou criar um tratamento novo e eficaz para as enfermidades neuróticas. No entanto, conexões que na época não podíamos imaginar fizeram-na ir bastante além do seu objetivo inicial. Por fim, ela pretendeu haver estabelecido sobre uma nova base toda a nossa concepção da vida psíquica, desse modo adquirindo importância para todas as áreas do saber fundamentadas na psicologia. Após ser completamente ignorada por uma década, de repente a psicanálise tornou-se objeto do interesse geral — e desencadeou uma tempestade de rejeições indignadas.
Deixemos de lado as formas como se expressou a resistência à psicanálise. Seja suficiente observar que a luta por essa inovação ainda não chegou absolutamente ao fim. Mas já podemos perceber que direção ela tomará. Os adversários não tiveram êxito em suprimir o movimento. Vinte anos atrás eu era o único representante da psicanálise, mas desde então ela encontrou muitos seguidores relevantes e laboriosos, tanto médicos como não médicos, que a utilizam no tratamento de doentes nervosos, como método de pesquisa psicológica e como instrumento auxiliar do trabalho científico, nos mais diversos âmbitos da vida intelectual¹. Nosso interesse, aqui, vai se dirigir apenas às motivações da resistência à psicanálise, atentando sobretudo para a natureza composta dessa resistência e os diferentes pesos de seus componentes.
Do ponto de vista clínico, as neuroses devem ser colocadas junto às intoxicações ou a doenças como a de Basedow. São estados que se produzem por um excesso ou relativa carência de determinadas substâncias muito ativas, formadas no próprio corpo ou introduzidas de fora; ou seja, são propriamente distúrbios na química do corpo, toxicoses. Se alguém conseguisse isolar a hipotética substância (ou substâncias) envolvida nas neuroses, não precisaria temer qualquer objeção por parte dos médicos. Mas atualmente não há caminho que conduza a isso. O que podemos fazer é partir do quadro sintomático da neurose, que no caso da histeria, por exemplo, compõe-se de distúrbios físicos e psíquicos. Ora, tanto os experimentos de Charcot como as observações clínicas de Breuer ensinaram que também os sintomas físicos da histeria são psicogênicos, isto é, são precipitados de processos psíquicos transcorridos. Ao se colocar o paciente em estado hipnótico, era possível criar artificialmente os sintomas somáticos da histeria.
A psicanálise recorreu a esse novo conhecimento e se pôs a questão de qual seria a natureza daqueles processos psíquicos, de consequências tão inusitadas. Mas tal orientação de pesquisa não correspondia aos interesses daquela geração de médicos. Eles haviam sido educados na apreciação exclusiva de fatores anatômicos, físicos e químicos. Não estavam preparados para levar em conta o âmbito psíquico, de modo que o viram com indiferença e aversão. Evidentemente duvidavam que coisas psíquicas permitissem uma abordagem científica exata. Em excessiva reação a uma fase ultrapassada, em que a medicina fora dominada pelas concepções da assim chamada “filosofia da natureza”, pareceram-lhe nebulosas, fantásticas, místicas, as abstrações com que a psicologia tem de trabalhar, e simplesmente se recusaram a crer em fenômenos notáveis que poderiam ser o ponto de partida para a pesquisa. Os sintomas da neurose histérica foram tidos como imposturas, as manifestações da hipnose, como fraudes. Nem mesmo os psiquiatras, a cuja observação se impunham os mais insólitos e surpreendentes fenômenos psíquicos, mostraram inclinação a atentar para seus detalhes e investigar seus nexos. Satisfizeram-se em classificar a variada gama de fenômenos patológicos e, sempre que possível, relacioná-los etiologicamente a distúrbios somáticos, anatômicos ou químicos. Nesse período materialista, ou melhor, mecanicista, a medicina fez enormes progressos, mas também ignorou, de maneira míope, o mais nobre e mais difícil dos problemas da vida.
É compreensível que os médicos, com essa atitude ante o psíquico, não tenham gostado da psicanálise nem procurado atender sua exortação a reorientar-se em vários aspectos e olhar muitas coisas de outra forma. Em contrapartida, era de supor que a nova teoria receberia o aplauso dos filósofos. Afinal, eles estavam acostumados a pôr conceitos abstratos — ou palavras vagas, no dizer das más línguas — à frente de suas explicações do mundo, e dificilmente se oporiam à ampliação do âmbito da psicologia que a psicanálise propunha. Mas aí se verificou um outro obstáculo: o psíquico dos filósofos não era o da psicanálise. Em sua grande maioria, eles consideram psíquico apenas o que é um fenômeno da consciência. Para eles, o mundo do que é consciente coincide com a esfera do psíquico. O que de resto possa ocorrer na “alma”², esse algo tão difícil de apreender, eles atribuem a precondições orgânicas da psique ou a processos paralelos aos psíquicos. Dito de maneira mais severa, a alma não tem outro conteúdo senão os fenômenos da consciência, e a ciência da alma, a psicologia, tampouco tem outro objeto. Também o leigo não pensa de outra forma.
Que pode então o filósofo dizer de uma teoria que afirma, como a psicanálise, que o psíquico é antes inconsciente em si, que estar consciente é apenas uma qualidade que pode ou não juntar-se ao ato psíquico particular e nele nada mais altera, caso fique ausente? Ele diz, naturalmente, que algo psíquico inconsciente é absurdo, uma contradictio in adjecto [contradição em termos], e não nota que com esse julgamento está apenas repetindo sua definição — talvez demasiado estreita — do que é psíquico. Esta certeza lhe é facilitada por não conhecer o material cujo estudo levou o psicanalista a crer em atos psíquicos inconscientes. Os filósofos não atentaram para a hipnose, não se ocuparam da interpretação de sonhos — consideram os sonhos, tal como os médicos, produtos sem sentido da atividade intelectual diminuída durante o sono —, mal desconfiam que existam coisas como ideias obsessivas e delírios, e se veriam em grande apuro se alguém lhes pedisse para explicá-los com base nas premissas psicológicas que mantêm. Também o psicanalista se recusa a dizer o que é o inconsciente, mas pode indicar a esfera de fenômenos cuja observação lhe impôs a hipótese do inconsciente. Os filósofos, que não conhecem outra espécie de observação que não a auto-observação, não podem acompanhá-lo nisso.
Portanto, a psicanálise tira apenas desvantagens de sua posição intermediária entre medicina e filosofia. Os médicos a veem como um sistema especulativo, não querem acreditar que, como qualquer outra ciência natural, ela se baseia na paciente e trabalhosa elaboração de fatos do mundo das percepções; os filósofos, que a medem pelo padrão de seus próprios sistemas artificialmente edificados, acham que ela parte de premissas impossíveis e lhe reprovam o fato de seus conceitos principais — que ainda se acham em desenvolvimento — carecerem de precisão e clareza.
Esse estado de coisas é suficiente para explicar a acolhida irritada e relutante que a psicanálise teve nos círculos científicos. Mas não permite compreender como se pôde chegar, na polêmica, àquelas explosões de indignação, de escárnio e desdém, ao abandono de todos os preceitos da lógica e do bom gosto. Tal reação faz supor que outras resistências além das puramente intelectuais foram ativadas, que poderosas forças emocionais foram despertadas, e, de fato, na teoria psicanalítica há muita coisa a que podemos atribuir tal efeito sobre as paixões das pessoas em geral, não apenas dos cientistas.
Há, sobretudo, a grande importância que a psicanálise concede aos chamados instintos sexuais na psique humana. Segundo a doutrina psicanalítica, os sintomas neuróticos são satisfações substitutas deformadas de forças instintuais sexuais, cuja satisfação direta foi frustrada por resistências internas. Depois, quando a psicanálise foi além do seu campo de trabalho original e se aplicou à vida psíquica normal, procurou mostrar que os mesmos componentes sexuais, que são desviados de seus objetivos imediatos e voltados para outros, contribuem do modo mais importante para as realizações culturais do indivíduo e da sociedade. Tais afirmações não eram completamente novas. O filósofo Schopenhauer já havia enfatizado a incomparável relevância da vida sexual em palavras inesquecíveis³; e, além disso, o que a psicanálise chamou de sexualidade não coincidia absolutamente com o impulso à união dos sexos ou à produção de sensações prazerosas nos genitais, mas sobretudo com o todo-conservador e oniabrangente Eros do Simpósio de Platão.
Mas os adversários não se lembraram desses augustos predecessores; caíram sobre a psicanálise como se ela atentasse contra a dignidade do gênero humano. Recriminaram-lhe o “pansexualismo”, embora a teoria psicanalítica dos instintos sempre fosse rigorosamente dualista e em nenhum instante tivesse deixado de reconhecer, ao lado dos sexuais, outros instintos, aos quais atribuiu o poder de reprimir4 aqueles. Inicialmente o par de opostos se chamava instintos sexuais e do Eu, com uma mudança posterior na teoria passou a ser Eros e instintos de morte ou destruição. Fazer arte, religião, organização social remontarem parcialmente ao concurso de forças instintuais sexuais foi visto como uma degradação dos mais elevados bens culturais, e foi declarado enfaticamente que o ser humano tem outros interesses além dos sexuais. Ignorou-se, com tamanho zelo, que também os animais têm outros interesses — de fato, estão sujeitos à sexualidade apenas em acessos, em determinados períodos, e não permanentemente, como os humanos —, que esses outros interesses jamais foram contestados no ser humano e que em nada altera o valor de uma conquista cultural a demonstração de sua procedência de elementares fontes instintuais animais.
Tanta falta de justiça e de lógica requer explicação. Não é difícil encontrar sua origem. A civilização humana repousa sobre dois pilares: um é o domínio das forças da natureza; o outro, a restrição de nossos instintos. Escravos acorrentados carregam o trono da rainha. Entre os componentes instintuais assim aproveitados, os instintos sexuais — no sentido mais estrito — sobressaem pela força e selvageria. Ai se fossem libertados! O trono seria derrubado e a soberana, pisoteada. A sociedade bem o sabe — e não quer que se fale disso.
Mas por que não? Que mal poderia fazer a discussão? A psicanálise jamais se pronunciou a favor da liberação dos instintos socialmente perniciosos; pelo contrário, advertiu e recomendou melhoras. Mas a sociedade não deseja que essa questão seja ventilada, pois em vários aspectos tem má consciência. Primeiro, estabeleceu um alto ideal de moralidade — moralidade é restrição dos instintos — e exige que todos os seus membros o realizem, mas não se preocupa do quanto pode ser difícil, para o indivíduo, tal obediência. E tampouco é tão rica ou tão bem organizada que possa compensar o indivíduo por seu grau de renúncia instintual. Portanto, deixa-se que o indivíduo descubra de que forma pode obter compensação suficiente para o sacrifício que lhe foi imposto, a fim de preservar seu equilíbrio psíquico. No conjunto, porém, ele é obrigado a viver psicologicamente acima de seus meios, enquanto suas reivindicações instintuais insatisfeitas o fazem sentir como permanente pressão as exigências da civilização5. Assim a sociedade mantém um estado de hipocrisia cultural, forçosamente acompanhado de um sentimento de insegurança e uma necessidade de proteger essa inegável instabilidade mediante a proibição da crítica e do debate. Essa consideração vale para todos os impulsos instintuais, também para os egoístas, portanto. Não investigaremos aqui se ela pode ser aplicada a todas as culturas possíveis, e não apenas às que até hoje se desenvolveram. Acresce que os instintos sexuais no sentido mais estrito são domados de forma insuficiente e psicologicamente incorreta na maioria das pessoas, de modo que são os mais inclinados a se desprender.
A psicanálise desvela as fraquezas desse sistema e recomenda sua alteração. Ela propõe que se reduza a severidade da repressão instintual e que se dê mais ênfase à veracidade. A sociedade foi muito longe na supressão de determinados impulsos instintuais; a eles deve ser concedido um maior grau de satisfação, e no caso de outros o inadequado método de suprimi-los pela via da repressão deve ser substituído por um procedimento melhor e mais seguro. Por causa dessa crítica a psicanálise foi considerada “hostil à civilização” e estigmatizada como “socialmente perigosa”. Tal resistência não durará eternamente. A longo prazo, nenhuma instituição humana pode escapar à influência da visão crítica fundamentada, mas até agora a atitude das pessoas ante a psicanálise é dominada por esse medo, que desata as paixões e reduz a exigência de argumentar logicamente.
Com a teoria dos instintos a psicanálise ofendeu o indivíduo enquanto membro da comunidade social; outra parte de sua teoria foi capaz de feri-lo no ponto mais sensível de seu próprio desenvolvimento psíquico. A psicanálise pôs termo à fábula da assexualidade da infância, provou que desde o começo da vida há interesses e atividades sexuais nas crianças pequenas, mostrou as transformações que eles experimentam, como aproximadamente no quinto ano sucumbem à inibição e depois, na puberdade, entram a serviço da função reprodutiva. Percebeu que a vida sexual da primeira infância culmina no chamado complexo de Édipo, na ligação afetiva ao genitor do outro sexo e concomitante rivalidade ante o do mesmo sexo, uma tendência que nesse período da vida prossegue desinibidamente como desejo sexual direto. Isso é de tão fácil confirmação, que realmente só com grande esforço pôde ser ignorado. De fato, todo indivíduo passou por essa fase, mas depois reprimiu de forma enérgica seu conteúdo e o relegou ao esquecimento. Dessa pré-história individual restaram a aversão ao incesto e uma forte consciência de culpa. Talvez tenha ocorrido de modo semelhante na pré-história da espécie humana, e os começos da moralidade, da religião e da organização social estivessem intimamente vinculados à superação dessa época primordial. Os adultos não podiam ser lembrados de sua pré-história, que veio a lhes parecer tão inglória; enfureceram-se quando a psicanálise quis levantar o véu de amnésia da sua infância. Houve apenas uma saída: o que a psicanálise afirmava tinha de ser falso, e essa suposta nova ciência devia ser uma urdidura de fantasias e distorções.
As poderosas resistências à psicanálise não eram de natureza intelectual, portanto, e se originavam de fontes afetivas. Isso explicava tanto sua passionalidade como sua indigência lógica. A situação obedecia a uma fórmula simples: as pessoas se comportavam diante da psicanálise, enquanto grupo, exatamente como o neurótico individual que se achava em tratamento por causa de seus transtornos, mas a quem podíamos demonstrar, em trabalho paciente, que tudo sucedera como dizíamos. Afinal, não havíamos inventado, e sim descoberto essas coisas a partir do estudo de outros neuróticos, através do esforço de algumas décadas.
A situação tinha, ao mesmo tempo, algo de alarmante e de consolador; o primeiro porque não era coisa trivial ter toda a espécie humana como paciente, o segundo porque tudo se desenrolou em conformidade com as premissas da psicanálise.
Se novamente lançamos o olhar sobre as resistências à psicanálise aqui descritas, vemos que apenas umas poucas são do tipo que se ergue contra a maioria das inovações científicas de alguma monta. Em geral as resistências derivam do fato de que poderosos sentimentos humanos viram-se feridos pelo conteúdo da teoria. O mesmo sucedeu com a teoria darwiniana da evolução, que pôs abaixo o muro que dividia homens e animais, levantado pela soberba humana. Apontei para essa analogia num breve ensaio anterior (“Uma dificuldade da psicanálise”, Imago, 1917). Enfatizei ali que a concepção psicanalítica da relação entre o Eu consciente e o superpoderoso inconsciente representa uma séria ofensa ao amor-próprio humano, que denominei psicológica e equiparei à ofensa biológica, causada pela teoria da evolução, e à cosmológica, suscitada anteriormente pela descoberta de Copérnico.
Dificuldades puramente externas também contribuíram para fortalecer a resistência à psicanálise. Não é fácil adquirir um juízo independente em questões de análise sem tê-la experimentado em si mesmo ou praticado em outra pessoa. Essa última coisa não é possível fazer sem ter aprendido uma técnica bastante delicada, e até há pouco não existia maneira facilmente acessível de aprender a psicanálise e sua técnica. Isso mudou com a fundação da Policlínica Psicanalítica de Berlim e seu instituto de ensino, em 1920. Pouco depois, em 1922, uma instituição igual foi criada em Viena.
Finalizando, podemos perguntar, com toda a discrição, se a própria personalidade do autor, de judeu que jamais ocultou sua condição, não teria colaborado para a antipatia do meio ambiente em relação à psicanálise. É raro que um argumento desse tipo seja expresso em voz alta, mas infelizmente nos tornamos tão desconfiados que não podemos deixar de supor que esse dado teve algum efeito. E talvez não tenha sido puro acaso que o primeiro defensor da psicanálise fosse um judeu. Para abraçá-la era preciso estar disposto a aceitar o destino do isolamento na oposição, destino esse mais familiar ao judeu que a qualquer outro.
NOTAS
- “Da vida intelectual”: des geistigen Leben. O adjetivo geistig (aí declinado) corresponde ao substantivo Geist, que em geral se traduz por “espírito”, mas também pode significar “intelecto”; por isso encontramos os dois termos nas versões estrangeiras consultadas: del espíritu, de la vida espiritual, della vita spirituale, of intellectual life. Na mesma frase ocorre o adjetivo wissenschaftlich (“científico”), que em alemão diz respeito não apenas às Naturwissenschaften (“ciências da natureza”), mas também às Geisteswissenschaften (“ciências do espírito”, em português denominadas “humanas”).
- “Alma”: “Seele”, também entre aspas no original. Em alemão o termo equivale igualmente a “psique”, como explicamos em As palavras de Freud, op. cit., pp. 152-6.
- Freud se refere, muito provavelmente, a algumas páginas do segundo volume de O mundo como vontade e representação, que contém os complementos ao primeiro volume. São páginas do capítulo 42, intitulado “Vida da espécie”; juntamente com o cap. 44, “Metafísica do amor sexual”, ele foi traduzido para o português, num volume intitulado O instinto sexual (São Paulo: Livraria Correa Editora, 1951, trad. Hans Koranyi, intr. Anatol Rosenfeld). Em alguns outros textos Freud alude igualmente a essa obra de Schopenhauer, sem precisar a referência; eles são: “Uma dificuldade da psicanálise” (1917), o prefácio à quarta edição dos Três ensaios de uma teoria da sexualidade (1905), escrito em 1920, e “Autobiografia” (1925, cap. v).
- “Reprimir”: unterdrücken — nas versões consultadas: rechazar, sofocar, reprimere, suppress; cf. notas às pp. 201 e 248 e também no v. 10 destas Obras completas, p. 88.
- “Exigências da civilização”: Kulturanforderungen; na frase seguinte, “hipocrisia cultural” é tradução de Kulturheuchelei; cf. nota sobre a versão dos termos Kultur e Zivilisation em O Mal-estar na civilização, v. 18 destas Obras completas, p. 48.
Publicado em FREUD, Sigmund. Obras Completas vol.16 (1923-1925), Companhia das Letras. Tradução de Paulo César de Souza.
